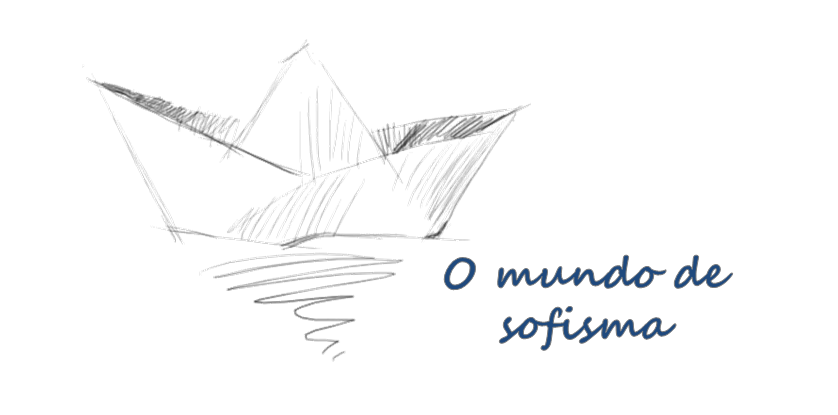Lá pelos meus doze anos, descobri aquele mundo novo da puberdade. As meninas não pareciam mais pulgas repelentes. Ficavam bonitas com o novo ar de “agora eu uso sutiã, tá?” e tinham até um gingado meio infantil, um requebrar que já ia dando vontade de chegar perto.
Tinha também o outro grupo. O das meninas que continuavam pulgas. Ninguém se aproximava delas. Feinhas, caretas, óculos fundo de garrafa, aparelho móvel que distorcia um pouco a fala, trança no cabelo, vestidinho com laçarote; e espinhas, muitas espinhas pipocando por toda parte do rosto. Dessas eu tinha pena. Não tinham conserto. A sina das coitadas era ver as bonitinhas entrando pela escola em seus carpetes imaginários. E não tinha páreo. Os meninos só queriam as bonitas.
Num desses recreios, acometido de uma benevolência sacra, sentei perto da Júlia. Pobre Júlia, sempre catarrenta, lenço na mão. Sofria de renite alérgica. Ela comia seu sanduíche de sardinha que a mãe sempre lhe preparava. Sentei perto e meu estômago embrulhou. Nunca gostei de sardinha, nem do cheiro.
- Oi Júlia. – cumprimentei, assim, como quem não quer nada.
- Oi. – ela não fazia questão de ser simpática.
E eu fiquei observando a forma como ela devorava o sanduíche. Sem a menor classe e postura. Se encurvava em cima das mãos, os cabelos caindo na comida, o barulho da respiração arfante, uma dó. A poucos metros, as bonitinhas nos bancos, tomando suco no canudinho, pernas cruzadas, revezando a prosa com os meninos que urubuzavam.
- Júlia. – arrisquei. – Você parece ser uma pessoa legal.
Falei e me arrependi amargamente. Ela me olhou como quem vê uma luz celestial. Sorriu um sorriso de dentes tortos e passou o lenço no nariz fazendo um barulho constrangedor. Gelei.
- Você acha mesmo? – ela perguntou com os olhos já imersos em água.
Meu coração partiu nessa hora. A coitadinha nunca devia ter ouvido um elogio de qualquer menino que fosse. Sabe que, naquela hora, ela até me pareceu bonita? Mas eu não conseguia ratificar meu elogio. Alguma coisa embargava minha fala. Nesse ínterim, ela foi chegando perto, jogando um charme falso que ela julgava ter. E aquele cheiro horrível de sardinha me dando ânsia de vômito. Minha sorte foi ela ter espirrado. Virou pro outro canto, com o lenço entrouxado nas narinas. Aproveitei o momento para fugir pra sempre.
Daquele dia em diante, limitei-me apenas a cumprimentá-la com um leve aceno de mão. Mulher sempre confunde as coisas. Impressionante!