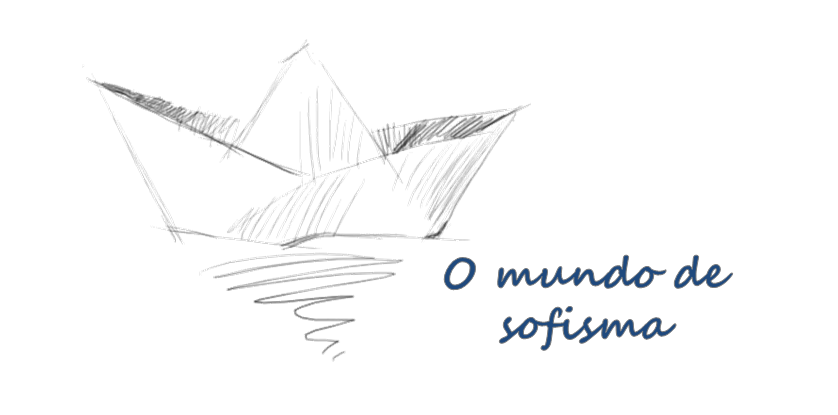Quando pequeno, não era muito fã de animais. Ainda hoje tenho minhas resistências, embora admita peixes
Passei a observá-lo de longe. Quando lambia as patas, quando procurava o próprio rabo, quando corria atrás das andorinhas no quintal, quando virava o prato de ração e rodava três vezes em cima da mantinha de dormir, antes de deitar. Vez ou outra nossos olhos se cruzavam e ele me encarava, sem piscar, com a cabeça tortinha, procurando me decifrar. Peguei carinho por ele.
Do cafuné, passei para as brincadeiras no quintal. Corríamos e rolávamos juntos na grama, feito amigos de longa data. Houve dias em que o fantasiava de pirata, amarrando um lenço entre as suas orelhas e prendendo um tapa-olho que sempre escorregava para o focinho. Outro dia, ensinei-o a catar as bolas de meia, depois de lançá-las o mais longe possível e a roubar as roupas que a vizinha implicante pendurava no varal. Certa vez, julgando-me um exímio nadador, quis jogar o dálmata na piscina para treiná-lo. Qual foi a minha decepção ao descobrir que ele nadava melhor que eu.
Levou um tempo para eu batizá-lo com um nome. Berinjela, por causa de uma mancha no pescoço que tinha esse formato. Como Berinjela é um nome comprido e não muito amistoso, virou Bê. Tamanha foi nossa amizade que à noite, depois que meu pai trancava a porta da varanda, eu pulava a janela e levava o cão para deitar na minha cama. Era nosso segredo. Foi assim até quando Maria começou a estranhar os pêlos branco-preto no meu lençol.
Berinjela se enrabichou com a cadela da esquina. Uma toda empinada que desfilava com a dona todo dia de manhã. Senti-me traído e jurei não dar mais espaço na cama ao dálmata. A partir desse dia, passei a ouvir uns uivos baixinho debaixo da minha janela. Eu tinha pena. Mas não dei o braço a torcer.
Meu pai começou a reclamar do comportamento rebelde do Berinjela. O jardim amanhecia esburacado e as bromélias da minha mãe mordiscadas, quando não arrancadas. Os sapatos sumiam e eram encontrados no quintal três dias depois, cheios de terra. Berinjela passou a implicar com as andorinhas, latindo imprudentemente durante toda a tarde. Por fim, estranhando Maria, rosnava toda vez que ela batia o tapete para tirar o pó.
A velhice de Berinjela nos rendeu muitos incômodos. Já cego e moribundo, resmungava da ração e latia até para os conhecidos da casa. A decisão do meu pai, na época, foi levar o animal para longe, onde poderia morrer
Berinjela nunca mais voltou. O silêncio passou a imperar no quintal. E, por muito tempo, confesso, ainda pude ouvir o uivo do dálmata debaixo da minha janela. Ainda hoje, ao fechar os olhos para dormir, vejo a cabeça dele tortinha e as orelhas se mexendo timidamente enquanto me pesquisa. É sua forma eterna de se despedir de mim.