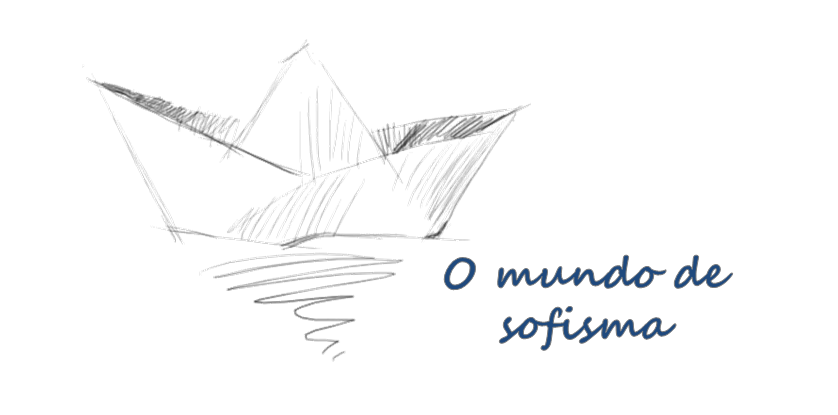Ninguém amou Dulce mais do que eu. E digo sem medo de estar errado. Apesar da legião de fãs que tinha, apesar dos assédios, eu tinha certeza. O que morava em mim não era desejo. Era amor, na sua forma mais piegas de ser.
Conheci Dulce embaixo de uma marquise, numa tarde chuvosa de fim de ano. Ela estava nervosa, comia as unhas numa avidez tresloucada. Ficamos ali parados, um ao lado do outro, esperando a chuva passar. E não passava. Eu lançava olhares furtivos pras pernas dela. Belas pernas, aliás. Mas a intenção era alcançar o rosto. Como se ela, inconscientemente, pudesse puxar minha íris pra cima. De repente, ela começou a assobiar uma música qualquer. Fiquei na dúvida se era Bee Gees ou Beatles. Era sua forma de distração. Pensei que poderíamos conversar, não sei. Qual assunto era bom pra conversar debaixo de uma marquise, com uma chuva torrencial despencando a poucos centímetros à frente?
- Moço, você não tem uma blusa qualquer nessa sua mochila?
Foi então que percebi que ela deveria estar sentindo frio. Meus olhos subiram, enfim, e viram dois ombros seminus, cobertos apenas por uma alcinha de dar dó. Compadeci. Respondi que não tinha, só tinha cadernos. Então, ela, de forma inusitada e distraída (uma distração de quem não percebe um cometa que passa em cima de sua cabeça) me pediu os cadernos. Eu, como que magnetizado, tirei os dois cadernos da mochila. Ela começou a arrancar as folhas, uma a uma, numa pressa afoita. Nesse momento, entre o arrancar de folhas, o mundo fez câmera lenta. E eu passeei
Depois de despetalar meus cadernos, Dulce cobriu os ombros. Percebi que ela havia arrancado as folhas usadas, com a matéria da aula anterior. Copiar tudo aquilo de novo me daria muito trabalho, pensei, mas não disse. Por fim, ela me encarou com gratidão e eu, bobo, só conseguia sorrir. Ela deve ter me achado bonito, ou charmoso. Porque não conseguia parar de me olhar. Fiquei pensando se era uma forma de agradecer pelas folhas, fazendo miragem de mim. Mas não sei. Talvez ela só estivesse com o olhar perdido, como ela mesma era.
Quando passou um táxi, ela gritou. Algumas folhas caíram no chão molhado e ela correu pra perto do veículo que atendera o seu chamado. Antes de entrar, ela me lançou um sorriso. Já estava encharcada. O cabelo inteiramente molhado, a blusa de alcinha grudada no corpo, deixando à mostra seios pequenos e pontudos que me afligiram. Havia papéis grudados nos ombros. Minhas letras se definhando na chuva, escorregando pra dentro dela. Quando ela entrou no táxi, deixei a marquise
Depois disso, em nossos encontros esporádicos pelas avenidas, fizemos um acordo tácito de não reconhecermos um ao outro. Ela passava por mim sem muita trela. Eu desviava os olhos pra outra direção. Pelo mistério, amei Dulce. Mais do que qualquer um.
* Dulce é personagem da Jaya que peguei emprestado pra este conto.